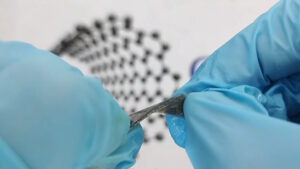Da época de estudante, Claudemira Lopes tem duas recordações importantes. Uma são as feiras escolares de ciências, que reuniam crianças da periferia do Rio de Janeiro em torno de assuntos científicos. Com cartazes de cartolina, experimentos simples e explicações de colegas só um pouco mais velhos, essas feiras que ocupavam o ginásio de esportes de um colégio público de Nova Iguaçu abriram horizontes para a hoje docente. Criaram uma paixão por ciência e educação.
A outra lembrança é a única professora negra que lecionou para Claudemira, nas séries iniciais de uma pequena escola pública. “Essa professora me inspirou porque dava aulas durante o dia e fazia faculdade à noite”, recorda-se. Para uma menina negra de oito anos, responsável por cuidar dos irmãos menores no tempo fora da escola, a dupla (tripla?) jornada da professora pelos estudos dava esperança de que para ela também poderia ser possível fazer da produção de conhecimento uma profissão.
“Além disso, ao mesmo tempo que gostava muito de estudar, tinha que desenvolver estratégias na escola para sobreviver ao racismo que sofria de colegas e das professoras brancas. Minha estratégia era tirar notas altas e ficar invisível na sala, quase não conversava, ficava no meu canto”, conta.
Esses pedaços de história se entrelaçam no itinerário profissional de Claudemira. Hoje docente da Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo), na UFPR Litoral, sua tarefa na graduação é formar professores para comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas. O compromisso que isso exige é bem conhecido da docente, que lecionou 20 anos na educação publica do Paraná antes de ingressar na UFPR.
Ao mesmo tempo, mantém o espírito das feiras de ciência nas ações de divulgação científica — no projeto de extensão “A genética tem cor?”, da qual é coordenadora. Inspirar meninas negras continua uma meta, desenvolvida em extensão e em pesquisa, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da UFPR.
Histórias como a de Claudemira também servem de base para que o Julho das Pretas dê visibilidade à mulher negra acadêmica. É assim que essa campanha, que busca incentivar o empoderamento no mês do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho, chega às universidades destacando exemplos históricos e atuais de mulheres negras intelectuais e pesquisadoras.
Nesta entrevista à Ciência UFPR, Claudemira lembra histórias da sua trajetória, mas também fala sobre iniciação científica na educação básica, formação de professores, busca da ancestralidade africana nos estudos genéticos, cuidados na divulgação científica sobre genética e racismo científico.
Qual a sua história ou a de sua família que estimulou você a trabalhar com ciência? Houve incentivo ou uma figura de inspiração? Hoje isso está mais presente para crianças e adolescentes?
Claudemira Vieira Gusmão Lopes | Sou filha mais velha de cinco irmãos, nascida em Minas Gerais e criada na periferia do Rio de Janeiro. Filha de pais assalariados com escolaridade limitada ao antigo ensino primário, cresci em um ambiente simples, mas sempre ouvindo falar sobre importância da educação. Sempre tive grande interesse pelo conhecimento, especialmente pelas ciências. Durante o ensino fundamental em escola pública, participei de feiras de ciências que marcaram profundamente minha trajetória.
Eu morava em um município na periferia do Rio de Janeiro, essas feiras ocorriam em um colégio público em uma cidade chamada Nova Iguaçu. Essa escola tinha um ginásio de esportes, que na minha lembrança de criança, era gigante. Para mim ir naquelas feiras era como se eu estivesse indo num evento da Nasa [agência espacial dos EUA]. Eu ficava encantada com os experimentos e ficava na dúvida de qual carreira seguir: às vezes queria fazer física, ou química, ou biologia, eu gostava de todas elas.
Essas experiências despertaram uma paixão pela investigação científica e pelo desejo de compreender os fenômenos naturais.
Logo após concluir o ensino médio, me casei e mudei para o Paraná, onde fui mãe de duas meninas [Thais e Izabella] e continuei meus estudos. Ingressei na graduação em Ciências Biológicas e, posteriormente, passei a lecionar Ciências e Biologia na rede pública estadual, conciliando a docência com a vida familiar e acadêmica. Meu compromisso com a educação e a vontade de aprofundar meus conhecimentos me conduziram ao mestrado em Ciências do Solo. Alguns anos depois, cursei o doutorado em Agronomia [ambos na UFPR]. Minha trajetória é marcada pela superação de desafios sociais, raciais e econômicos.
GALERIA | Exercício diverso da docência
Só tive uma professora negra durante meu processo de escolarização e foi no ensino fundamental. Era a única professora negra da escola, isso me marcou muito. Essa escola era bem pequena e só atendia até o 4º ano do fundamental I, tinha apenas cinco salas, era uma escola pública. Essa professora me inspirou porque dava aulas durante o dia e fazia faculdade à noite. Foi um período difícil da minha vida porque meus pais trabalhavam fora e eu tinha que estudar e cuidar dos meus irmãos menores, sendo que eu tinha apenas oito anos. Além disso, eu passava por muitas situações de racismo na escola e ao mesmo tempo que gostava muito de estudar, tinha que desenvolver estratégias para sobreviver ao racismo que sofria de colegas e das professoras brancas. Minha estratégia era tirar notas altas e ficar invisível na sala, quase não conversava, ficava no meu canto.
Por ser uma mulher negra com todas as dificuldades de acesso ao ensino superior e a graduação, penso que minha carreira é um exemplo inspirador de ascensão por meio da educação, especialmente para jovens de origens semelhantes à minha.
Por isso, me dedico também a promover a inclusão, a igualdade das relações étnico-raciais por meio da produção de materiais educativos antirracistas e o acesso ao conhecimento científico.
Levantar exemplos de cientistas negras para os materiais didáticos do projeto Meninas e Mulheres nas Ciências é hoje um retorno ao passado para você, nesse sentido? Por que é relevante apresentar mulheres negras como acadêmicas?
CVGL | O Projeto Meninas e Mulheres nas Ciências [MMC], do qual faço parte e é coordenado pela professora Camila Silveira, tem contribuído com a educação e a divulgação científica de diversas formas. Há uma preocupação com o fato de nós mulheres ainda sermos a minoria entre os pesquisadores que produzem ciência, aliado ao fato de as pesquisas dessa minoria ainda serem de certa forma “invisíveis” aos olhos da sociedade.
Por entender que essa falta de referenciais sobre mulheres na ciência ser pode desestimular as meninas na hora de optarem pela carreira científica, o MMC tem produzido muitos materiais didáticos, entre os quais, destaco a coleção Livros de Passatempos sobre mulheres cientistas.
Apesar dos avanços nas políticas de inclusão e equidade de gênero, as mulheres ainda representam uma minoria nos espaços acadêmicos e no sistema nacional de ciência e tecnologia no Brasil, especialmente em cargos de liderança e nas áreas de ciências exatas e tecnológicas. Essa desigualdade se acentua ainda mais quando se trata de mulheres negras, que enfrentam um duplo obstáculo: o racismo estrutural e o machismo institucional.
Enquanto mulheres brancas conseguem, em parte, avançar em suas carreiras acadêmicas, as mulheres negras são frequentemente invisibilizadas, sub-representadas e excluídas de oportunidades de financiamento, publicação e reconhecimento.
A interseccionalidade entre gênero e raça evidencia uma hierarquia persistente dentro da academia brasileira, que reproduz desigualdades históricas e sociais, limitando o acesso e a permanência de mulheres negras nesse espaço. Combater essa disparidade requer não apenas ações afirmativas, mas também uma profunda transformação das estruturas acadêmicas e de seus valores.
Coordeno a coleção das cientistas negras brasileiras dentro do MMC porque quero que as meninas negras se espelhem nessas mulheres que nos antecederam e são brilhantes nas pesquisas que desenvolvem.
O ato de investigar e dar visibilidade ao trabalho de outras cientistas negras me permite, como pesquisadora, me reconectar com a minha própria história, identidade e trajetória. É como se, ao olhar para essas mulheres que vieram antes eu reconhecesse nelas partes de mim mesma.
Os mesmos desafios enfrentados ou mesmo as ausências de nós nos espaços acadêmicos. Esse movimento de pesquisa se torna, então, também um ato de autoconhecimento, afirmação e ancestralidade.
O volume 1 das cientistas negras trouxe mulheres como Enedina Marques, Conceição Evaristo, Neusa Santos, Rita de Cassia dos Anjos e outras. Quando chegamos nas escolas e mostramos as fotos dessas mulheres e dizemos que são engenheiras, biólogas, historiadoras, químicas ou físicas, a maioria desconhece esse fato.
Com nota máxima no MEC, a Licenciatura em Educação do Campo da UFPR tem uma proposta interessante de capacitar professores de comunidades tradicionais com forte peso para a extensão e tendo, como referenciais teóricos, a valorização dos saberes tradicionais, em um “diálogo de saberes” com a ciência. Muita gente acredita que esse diálogo é difícil ou até impossível, pela lógica capitalista que a ciência segue.
CVGL | A Educação do Campo é resultado da luta dos movimentos sociais do campo por uma educação de qualidade e a Lecampo que surge desse movimento como uma proposta formativa inovadora e estratégica, especialmente por seu compromisso com a valorização dos saberes das comunidades tradicionais e sua forte articulação com a extensão universitária. Voltada para a formação de professores que já vivem e atuam no campo, por exemplo, indígenas, quilombolas, pequenos agricultores familiares, pescadores e ribeirinhos, essa licenciatura alia a base científica das ciências da natureza com metodologias pedagógicas contextualizadas, respeitando a cultura, o modo de vida e as necessidades locais.
De fato, o foco na extensão permite que o conhecimento acadêmico dialogue com as realidades do campo, promovendo uma educação transformadora, crítica e voltada para a emancipação social, além de fortalecer o protagonismo das comunidades na construção de saberes e práticas educativas.
Penso que mesmo dentro da lógica capitalista que muitas vezes guia a ciência, minha pesquisa ao investigar o conhecimento etnobotânico de uma comunidade quilombola pode, sim, ser um bom exemplo de valorização desses saberes e de diálogo com a comunidade.
Pesquisas dessa natureza se realizada com respeito, escuta e retorno para as pessoas envolvidas, podem contribuir para o reconhecimento da importância do conhecimento tradicional, evidenciando que ele tem valor não só cultural, mas também ambiental e social — principalmente quando está ligado a práticas sustentáveis, caso do meu estudo.
Em março você assumiu junto com a Lucimar Dias [professora titular no Setor de Educação da UFPR] coordenação do Neab, um grupo de pesquisa importantíssimo da universidade, coluna vertebral da política de ações afirmativas da instituição antes ainda da Lei de Cotas. Que estratégia perpassa a coordenação do núcleo hoje? Por exemplo: diversificação das pesquisas, internacionalização, etc. Os neabs Brasil afora em geral conseguem trabalhar em rede?
CVGL | O Neab na UFPR sempre teve dupla personalidade, porque ao mesmo tempo que é um espaço institucional, antes ligado a Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade [Sipad] e atualmente ligado à Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Equidade [Proafe], é ao mesmo tempo um grupo de pesquisa que tinha como líder o saudoso professor Paulo Vinícius [Baptista, falecido em 2024]. O que eu e a professora Lucimar assumimos foi o Neab institucional que está ligado ao gabinete da Proafe.
Temos muitos planos para esta gestão. O principal deles é construir coletivamente o Plano de Combate ao Racismo da UFPR com metas e protocolos que nos ajudem a avançar na perspectiva de uma universidade sem racismo. Também queremos mapear os coletivos de estudantes negros, bem como saber quantos professores e servidores temos hoje autodeclarados na UFPR e interiorizar o Neab, constituindo núcleos nos diferentes campi, além de mapear todos os grupos de pesquisa da UFPR que se dedicam a estudos no campo das relações étnico-raciais. Tudo isso para construir uma política institucional visando uma universidade antirracista.
Sobre o “Neab grupo de pesquisa” realizamos uma reunião ampla e aberta a toda a comunidade da UFPR para apresentar nosso Plano de Trabalho e comunicar aos professores e estudantes que fazem parte do Neab grupo de pesquisa que era liderado pelo professor Paulo que vamos apoiá-los e desejamos sua continuidade pois esperamos que alguém assuma a tarefa de continuar o legado deste importante pesquisador.
Os diversos grupos Neabs Brasil afora fazem parte de uma rede chamada Consórcios Nacionais de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros [Coneabs], são entidades que congregam os Neabs de diferentes instituições de ensino superior no Brasil. Esses núcleos atuam no âmbito universitário com o objetivo de promover o estudo, a pesquisa e a divulgação da cultura afro-brasileira, além de desenvolver ações afirmativas e políticas de diversidade, funcionam como uma rede de colaboração entre esses núcleos, buscando fortalecer a produção acadêmica e o debate sobre questões raciais e étnico-raciais no país. São responsáveis por realizar os congressos de pesquisadores negros [Copenes], no âmbito da Associação Brasileira de Pesquisadores(as) Negros(as) [ABPN]. Em nossa gestão Neab Proafe, esperamos que os diferentes grupos de pesquisa encontrem um espaço de reflexão sobre o antirracismo e haja diversificação de áreas. É nesse sentido que queremos mapear os grupos de pesquisa dentro da UFPR.
Considerando os seus 20 anos de docência em escola pública: qual o espaço para o professor da rede pública que quer trabalhar com iniciação científica, antes e agora? Existe encorajamento ou ônus? O que muda na docência quando o educador se dispõe a apresentar a ciência aos alunos ainda na educação básica?
CVGL | Minhas atividades enquanto docente na escola pública envolveram, dentre outras coisas, o trabalho com a iniciação científica. Comecei em 1997 quando atuava no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Ministro Flávio Suplicy de Lacerda [Caic] em Lapa [na Região Metropolitana de Curitiba]. Eu era professora de Ciências e coordenava o Clube de Ciências que atendia crianças de várias faixas etárias, todas elas eram estudantes do ensino fundamental I, que participavam do Clube no contraturno.
Nessa ocasião, orientei vários projetos de iniciação científica, destaco o projeto desenvolvido pelo estudante Everton Lisboa. Um dia ele chegou no clube e com as mãos cheias de um besouro conhecido popularmente por joaninha, que segundo ele, estava em grande quantidade sobre uma planta conhecida por guanxuma que nascia no espaço em frente à escola, onde deveria ser a calçada. Ele estava muito curioso para saber o nome científico do besouro. Quando eu disse que sabia apenas o gênero daquela espécie de besouro, foi visível a decepção no olhar dele: “como assim a senhora, uma bióloga, não sabe o nome científico desse besouro?” Nesse momento percebi que precisava obter mais informações sobre aquele inseto para não decepcionar o estudante. Lembro de ter ligado para o Departamento de Zoologia da UFPR para solicitar uma conversa com algum entomólogo e me indicaram o professor Zundir [José Buzzi, professor titular aposentado em 1994]. Assim, eu e o estudante nos deslocamos até o Politécnico [campus da UFPR em Curitiba, no bairro Jardim das Américas] para conversar com o professor que na hora classificou o besouro como Calligrapha polyspila.
Esse professor ficou encantado como o fato de um menino de 13 anos ter tanta curiosidade pela ciência. Então, ele nos deu vários livros e mencionou que um projeto envolvendo a biologia daquele besouro seria inédito. O aluno voltou empolgadíssimo e sob minha orientação escreveu um projeto de pesquisa para estudar a biologia do besouro. Quando percebi que ele tinha muitos registros acumulados, orientei a escrita do relatório e submetemos ao concurso Cientistas do Amanhã (SBPC). Fomos selecionados para apresentar a pesquisa para uma banca de cientistas durante a 50ª Reunião Anual da SBPC em Natal, RN, em 1998.
Esse resultado teve um impacto muito grande na minha carreira e nos outros estudantes que passaram a procurar o Clube de Ciências para desenvolver projetos. Daquela época em diante não parei mais de orientar a iniciação científica no ensino fundamental e médio.
No entanto, foi uma época difícil devido à falta de incentivo. Desenvolvia esse trabalho na minha única tarde de folga mesmo sem nenhum retorno financeiro. O que me estimulava eram os questionamentos dos estudantes, que foram fundamentais para despertar meu interesse pela pesquisa. Eles impulsionaram minha trajetória acadêmica, motivando meu mestrado e doutorado.
Hoje, há muitos incentivos para os professores desenvolverem esse tipo de trabalho nas escolas, um exemplo é um dos projetos de iniciativa do Novo Arranjo de Pesquisa e Inovação [Napi] Paraná Faz Ciência, que criou mais de 200 clubes de ciência em escolas da educação básica em todo o Paraná em 2024, com apoio financeiro da Fundação Araucária e do CNPq. Os professores que atuam como coordenadores desses clubes ganham uma bolsa para desenvolver pesquisas com as crianças.
Da época da rede pública estadual é que tiro minhas melhores histórias. Porque tive a oportunidade de orientar meus alunos em projetos que foram apresentados em grandes feiras de ciência como por exemplo, a Mostratec, no Rio Grande do Sul. Muitas vezes não tínhamos recursos e nem equipamentos para desenvolver pesquisas, então, por diversas vezes precisei desafiar meus alunos para que desenvolvessem suas pesquisas a partir de embalagens vazias de creme dental, de medicamentos, que eu levava para eles. Lembro que uma vez um aluno de 12 anos que estava no 6º ano do fundamental em uma escola da Lapa, se interessou pelas embalagens de pasta de dente. Observou que a composição química dessas embalagens era muito parecidas, no entanto, o preço delas no mercado variava muito, uma chegava a custar dez vezes o preço da outra. Então, ele bolou a seguinte pergunta: Qual o critério que uma pessoa usa para escolher seu creme dental no supermercado? E elaborou várias hipóteses: será que é o preço? Ou será que é a embalagem? Com a minha ajuda ele organizou um questionário e foi para a frente de dois supermercados entrevistar os clientes na saída das compras. Esses dados foram organizados em gráficos e tabelas e mais uma pesquisa bibliográfica. Depois de tudo pronto, sugeri que o trabalho fosse enviado para a SBPC que aconteceria em Porto Alegre naquele ano. O trabalho dele foi selecionado e ele foi apresentar. Ele nunca havia viajado de avião e se hospedado em um hotel. Ficou maravilhado com tudo que viu na SBPC e o mundo de possibilidades e carreiras que ele podia seguir. No ano seguinte, apareceu um concurso chamado “sonhadores do milênio”. Os promotores desse evento espalharam folders em vários lugares com a seguinte pergunta: Você conhece algum jovem que desenvolveu um projeto que seja útil para a sociedade? Faça a inscrição dele nos “sonhadores do milênio” porque os selecionados ganharão uma viagem de 15 dias para a Disney. Eu tinha vários jovens para indicar, optei por inscrever o Saimon, o menino do creme dental. Dois meses se passaram, quando recebi um telefonema me avisando que eu e o Saimon havíamos sido selecionados para integrar a comitiva de 40 jovens brasileiros que iriam com tudo pago para a Disney. Quando dei a notícia, ele nem acreditou. Daí em diante tive que providenciar o RG e passaporte que ele não tinha. Não tinha roupas e nem uma mala para viajar. Fui até a rádio da cidade e fiz um pedido para que as pessoas ajudassem para que pudéssemos conseguir o dinheiro para bancar os gastos com passaporte, roupas, etc. O Rotary Club da cidade e outras pessoas ajudaram e conseguimos em menos de um mês organizar tudo para que ele pudesse viajar. Na época, eu fazia o mestrado na UFPR e um dos professores não me liberou para viajar junto porque era época de aula. Então, organizei para a mãe dele ir junto com ele. Aí tivemos outro problema, nem ele e nem ela falava inglês. Conversei com o dono de uma escola de inglês que tinha na cidade para que ele fizesse uma imersão com o Saimon de um mês e foi o suficiente. Essas aulas serviram para que ele ajudasse outros brasileiros que tiveram dificuldades durante a viagem lá nos EUA.
Qual a sua rotina no projeto de pesquisa Genes e Saúde da população, e na divulgação científica dos resultados pelo “A Genética Tem cor?”?
CVGL | Veja, a linha de pesquisa Genética e Saúde da População Negra foi criada pela professora Márcia Beltrame [atualmente no Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul] ao perceber a necessidade de se conhecer a diversidade genética da população afro-brasileira e suas implicações nos desenvolvimentos em saúde, uma vez que essa população tem sido sistematicamente negligenciada pelos estudos na área.
Observe que o viés eurocêntrico dos estudos em genética é mundial, como reportado através do número de estudos de associação genômica com doenças e características complexas e quanto aos participantes nesses estudos, a grande maioria europeus [conforme o GWAS Diversity Monitor]. É evidente a discrepância se levarmos em consideração que 18% da população mundial é africana e cerca de 10% é europeia.
Porém, para compreendermos a relevância de pesquisas que envolvam populações africanas ou afro-descendentes basta verificar que as populações africanas são as de maior diversidade genética do mundo de acordo com todos os estudos realizados na área [dado do livro Human Evolutionary Genetics].
Quando deixamos de estudar as populações de ancestralidade africana, não só deixamos de conhecer sua diversidade, como deixamos de conhecer muitas causas de doenças genéticas, como a variação entre as pessoas pode impactar na predisposição a todas as doenças, na eficácia dos tratamentos e por consequência no desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos que podem não se aplicar a essas populações.
Agora a pergunta que não quer calar. E como ficam os estudos na área de genética humana no Brasil, país que tem a maior população da diáspora africana no mundo e onde 55,5% da população é negra, e onde o viés eurocêntrico dos estudos em genética também persiste?
Aqui no Brasil, a exemplo da Europa e Estados Unidos, os estudos de genética humana tem privilegiado apenas pessoas brancas, e mesmo os que incluem pessoas negras, o fazem sempre em muito menor proporção. Isso vale inclusive para estudos de doenças que apresentam maior prevalência na população negra, como a diabetes tipo 2 e a hipertensão, nesses o viés eurocêntrico também está presente de forma espantosa, incluindo artigos científicos com centenas a milhares de pacientes todos brancos.
Estou escrevendo um artigo sobre isso onde demonstro que essa quase inexistência de estudos envolvendo a população negra pode ser explicada pelo racismo científico, estrutural e institucional.
Voltando à sua pergunta sobre minha rotina no projeto de pesquisa. Fui convidada para participar nessa pesquisa devido ao meu conhecimento e aproximação com as comunidades quilombolas no Paraná, por onde iniciamos a pesquisa em 2018. Além de acompanhar as atividades da pesquisa, sugeri a criação do projeto de extensão “A Genética Tem Cor?” para a produção de livros, jogos e outros materiais didáticos direcionados ao público em geral, e aos estudantes e professores da educação básica. Em 2024, a professora Márcia assumiu como docente na UFRGS e o projeto passou a incluir as comunidades do Rio Grande do Sul. Hoje, todas as análises de extração, sequenciamento e identificação do DNA são realizadas na UFRGS, em uma parceria com a Fiocruz. A minha principal contribuição com a pesquisa tem sido coordenar as publicações do projeto A Genética Tem Cor?
Tenho pensado em teorizar o racismo a partir do conceito de tecnologia social. O racismo, especialmente o racismo estrutural, foi historicamente construído, mantido e aperfeiçoado como um sistema de dominação. Ele organizou, e ainda organiza, as sociedades, distribuindo poder, oportunidades e recursos de forma desigual, a partir da ideia de raça, que é uma construção social, não biológica.
No que diz respeito à ciência e pseudociência, a eugenia, por exemplo, foi uma “tecnologia ideológica” usada para sustentar a superioridade racial branca. Do ponto de vista crítico, especialmente nos estudos decoloniais e nos estudos sobre poder, o racismo pode sim ser entendido como uma tecnologia de controle social, política e econômica. Construída, mantida e ajustada ao longo do tempo para servir a interesses específicos.
Não se trata de “legitimar” o racismo como algo neutro ou técnico, e sim expor sua intencionalidade e complexidade como sistema operante. Sendo uma tecnologia, ele pode ser desmontado, combatido e superado.
Veja o exemplo dos estudos em genética humana centrados em populações negras. Eles podem funcionar como uma poderosa tecnologia de enfrentamento ao racismo estrutural, científico e institucional. Historicamente, a genética foi usada para justificar hierarquias raciais, desumanizando pessoas negras com base em pseudociência. Ao produzir conhecimento real e robusto sobre a diversidade genética dessas populações, a ciência hoje tem o poder de desmontar essas narrativas, revelando, por exemplo, que há mais diversidade genética dentro de populações africanas do que entre muitos outros grupos humanos. Isso enfraquece qualquer noção biológica de “raça” e corrige distorções históricas perpetuadas por séculos. Além disso, ao incluir populações negras em pesquisas genéticas, ampliam-se os horizontes da medicina e da saúde pública, tradicionalmente baseadas em padrões europeus.
Isso permite diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes e políticas de saúde mais justas, enfrentando o racismo institucional na prática. Também fortalece o reconhecimento de identidades e ancestralidades historicamente apagadas, contribuindo para a valorização da memória coletiva e das lutas por reparação, tornando a genética uma ferramenta não apenas científica, mas política e social, a serviço da igualdade das relações étnico-raciais.
Ainda sobre o projeto de extensão: como qualificar a divulgação científica de temas genéticos, assimilando-as às questões sociais, a fim de que não se corra o risco de criar ou reforçar estereótipos raciais e étnicos?
CVGL | Como mencionei, iniciamos o projeto para divulgar os resultados da pesquisa inédita sobre genes e saúde da população afro-brasileira, na época realizada no Laboratório de Genética Molecular Humana da UFPR. Nossa preocupação desde então tem sido democratizar o acesso à essas informações para que a população brasileira, que em sua maioria se autodeclara negra, tenha acesso às essas informações.
Entendo sua preocupação com o risco de se criar ou reforçar estereótipos raciais. Principalmente se levarmos em consideração que a biologia, sem esquecer a antropologia e o direito, foi uma das responsáveis por perpetuar ideias racistas no Brasil, quando no final do século XIX, usou as características biológicas para explicar diferenças psicológicas, morais e intelectuais entre as pessoas brancas e não brancas, usando como pano de fundo as ideias de Darwin sobre o determinismo biológico.
Porém, vale ressaltar que qualquer divulgação científica, especialmente sobre temas sensíveis como genética e raça, carrega um risco potencial de interpretação equivocada, principalmente se o conteúdo for desconectado de seu contexto ou for simplificado em excesso, principalmente por públicos que já têm ideias racializadas enraizadas.
Perceba que o risco não está nas nossas publicações propriamente ditas, que são claramente antirracistas e críticas, mas sim na forma como o conteúdo é recebido, recortado, reproduzido ou interpretado fora do seu contexto original.
Uma forma de minimizar esse risco é continuar investindo em uma linguagem acessível, pedagógica e comprometida com os aspectos sociais, históricos e éticos da ciência.
A escolha do título completo do projeto [“A Genética Tem Cor? Presença/Ausência da Ancestralidade Africana nos Estudos de Genética”] quer provocar uma reflexão crítica sobre como a genética é compreendida, produzida e divulgada em relação às populações racializadas, especialmente as de ancestralidade africana.
Ao formular essa pergunta, o projeto questiona a falsa neutralidade da ciência genética, evidenciando que, historicamente, a ausência ou a sub-representação da ancestralidade africana nos estudos genéticos reflete escolhas sociais, políticas e epistemológicas — não meramente técnicas. O título também sugere que, embora a genética enquanto ciência não atribua “cor” aos genes, a forma como ela é aplicada, interpretada e representada muitas vezes carrega implicações raciais, que podem reforçar ou combater desigualdades.
Assim, o projeto propõe uma abordagem que destaca a necessidade de reconhecer, valorizar e incluir a diversidade genética de populações negras nos estudos científicos, como forma de romper com práticas racistas excludentes existentes nos estudos de genética humana e promover uma ciência mais justa, plural e comprometida com a equidade racial.