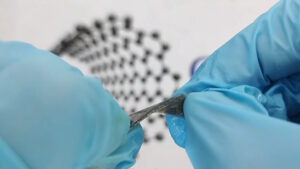Ao aceitar o convite da Future Earth International para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), a professora Yara Moretto também abraçou um desafio: abordar os percalços da gestão hídrica para tomadores de decisão ainda resistentes às evidências científicas.
À frente do NAPI Águas, projeto financiado pela Fundação Araucária, que reúne especialistas em recursos hídricos para construir um banco de dados ambiental do Paraná, a docente da Universidade Federal do Paraná (UFPR) integrou um painel sobre resiliência hídrica no Sul Global.
Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), além de mestre e doutora em “Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais” pela mesma instituição, Moretto foi diretora do Setor Palotina da UFPR e é uma das principais pesquisadoras do Brasil em seu campo de investigação.
Nesta entrevista, ela relata sua participação na conferência global sediada em Belém (PA) e seus trabalhos mais recentes para compreender os impactos das mudanças climáticas e apoiar a formulação de políticas públicas baseadas na natureza.
Um dos objetivos da COP 30 é promover um diálogo entre cientistas e tomadores de decisão do mundo todo. O que os líderes globais mais relutam em aceitar sobre a crise climática?
Eu acho que os mitos mais fortes entre eles são de que a emergência climática não está tão grave, de que os eventos extremos estão acontecendo esporadicamente ou, ainda, que a mudança climática não existe. Aí a gente tenta rebater com a ciência, dados do passado e o que tem acontecido. Não é que não possamos produzir, ter industrialização, mas o fato é que isso foi e continua sendo totalmente desequilibrado. Esse é o ponto-chave que a gente tem tentado trazer.
Sua área de estudo é gestão hídrica. Como temos gerido a água no Brasil e o que é preciso melhorar?
A questão da água é bastante importante. Se ouve falar muito em segurança hídrica justamente porque estamos ali num limiar de já entrar em níveis de insegurança. Tanto no contexto de quantidade quanto num contexto de qualidade. As fontes de poluição são imensas e os usos da água também são. Além disso, por conta das mudanças climáticas, temos tido muita disparidade nos regimes de chuva.
Diante da dificuldade crescente de prever a dimensão de desastres como as enchentes no Rio Grande do Sul, como podemos nos preparar melhor para eventos climáticos cada vez mais imprevisíveis?
Temos trabalhado muito com modelagens, que consistem na utilização de dados do passado e da atualidade em projeções que vão nos indicar qual é o melhor caminho a seguir. Essas projeções têm mostrado que a gente precisa restaurar áreas de nascentes, vegetação no entorno de rios e na sua amplitude correta.
Infelizmente, temos visto cada vez mais ataques a instrumentos importantes como o licenciamento ambiental, como foi proposto pela PL 2159/21. Então, a gente tem atuado no sentido de ser contra esse movimento, e promover ações que possam proteger o que ainda temos, pensando especialmente em restauração das áreas do entorno que a gente chama de vegetação ripária ou de mata ciliar, por exemplo.
Isso tudo para contribuir para a manutenção da qualidade e da quantidade de água. Nesse sentido, existe uma série de soluções baseadas na natureza que podem ser aplicadas. A informação existe. A gente só precisa que sejam aplicadas da melhor maneira a partir de políticas públicas e do envolvimento da sociedade civil organizada, empresas, indústrias e agronegócio. Esse diálogo entre a academia e as outras esferas é extremamente importante. Eu acho que isso é uma das melhores coisas que acontecem em eventos tão grandes como a COP, podemos fazer esse tipo de diálogo integrador.
Qual é o maior problema da gestão hídrica hoje?
É difícil apontar um único problema. Não tem como falarmos de qualidade e quantidade de água sem que elas estejam unidas. Para que possamos fazer uso da água, ela precisa existir em quantidade e em qualidade. Porque se tenho quantidade de água, mas essa água não tem qualidade, aumentarei os custos com tratamento. Além disso, a longo prazo, a contaminação da água pode ocasionar problemas de saúde pública, uma vez que existem compostos que não são possíveis de retirar a partir do tratamento convencional. Então, as duas coisas precisam andar juntas, tanto quantidade quanto qualidade, para que essa água seja suficiente para os nossos usos. E aí é que eu acho que entra a questão do equilíbrio, pois não estamos tendo equilíbrio nos múltiplos usos da água, como apontam os últimos relatórios da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
Estudos mostram que o principal uso da água hoje tem sido para a irrigação de culturas, do agronegócio, o que vem comprometendo nossa qualidade e quantidade hídrica. O grande problema é que não estamos tendo água necessária para recompor os rios, os lençóis e os aquíferos, pois a demanda está maior que a capacidade de recarga. Soma-se a isso a falta de vegetação e florestas, que contribui grandemente para o processo de infiltração da água, desregulando todo o ciclo hidrológico.
Como o ciclo da água deveria ocorrer e como nossas ações prejudicam essa dinâmica?
O ciclo hidrológico envolve várias etapas. Uma árvore absorve água da chuva, principalmente, através das suas raízes e essa água também se infiltra no solo. Quando existem raízes mais longas que conduzem essa água para camadas mais profundas, elas também ajudam a abastecer não só os lençóis freáticos, mas também a facilitar o escoamento adequado por entre as partículas do solo. Além disso, devolvem água para a atmosfera através de transpiração.
Quando temos um ambiente sem vegetação, o que perdemos é justamente essa capacidade de infiltração do solo e de transpiração. Falando aqui de forma muito geral e ampla, se não há vegetação suficiente para permitir que a água infiltre, ela vai simplesmente escoar. Esse escoamento carrega água e sedimentos, que podem ser levados para ambientes aquáticos, estradas ou, até mesmo, impedir completamente a infiltração, dependendo da compactação daquele solo. Isso representa uma grande perda, porque a chuva não tem tempo de penetrar no solo; ela escoa rapidamente. Às vezes o solo está muito compactado, por diversos fatores, como pisoteio de gado, compactação por áreas industriais, urbanização, e essa compactação dificulta ainda mais a infiltração.
Então, o que esperamos de um ambiente com um ciclo eficiente é que ele possa passar por todas as etapas. Falando apenas da água, sem entrar no contexto da liberação de outros compostos, o mais importante é que muitas vezes esse ciclo não se completa justamente pela carência de vegetação ou porque a vegetação existente não é suficiente para absorver e permitir a infiltração e os demais processos.
Há, por exemplo, substituição de florestas nativas por áreas de gramíneas ou de pastagem, cujos sistemas radiculares não são profundos o bastante para ajudar nesse processo. Existem vários impactos associados a isso. E, mesmo nas cidades, muitas vezes não há áreas que favoreçam a infiltração. Temos apenas superfícies impermeáveis. Faltam áreas com gramados ou estruturas permeáveis e vegetação arbórea. Então, há essa ausência de estruturas, tanto no ambiente urbano quanto no rural, dificultando que o ciclo seja completo e eficiente, como deveria ser. Nesse aspecto, as soluções baseadas na natureza são muito importantes.
Quando falamos de qualidade, entra a questão da poluição e todos os seus aspectos. A poluição também afeta essas dinâmicas: em ambientes extremamente poluídos, há um desequilíbrio ambiental, biológico e químico, que interfere no ciclo. Compostos indevidos são liberados para a atmosfera ou permanecem na coluna d’água. Em ambientes com alta carga orgânica, já não existe o funcionamento adequado: o fitoplâncton pode se tornar ausente ou, ao contrário, ocorre crescimento excessivo de algas tóxicas, inclusive à saúde humana. Tudo isso gera desequilíbrio que afeta a qualidade da água e, diretamente, também a quantidade.
Onde estão os principais focos de ineficiência na gestão hídrica no Brasil?
Não tenho dados para apontar os maiores focos, mas se a gente for considerar o que vê de notícias, temos, por exemplo, cidades como São Paulo, que sempre são alvo de enchentes. E eu acho que São Paulo é o nosso exemplo mais gritante por conta da forma como foi construída e de cuidados que não foram tomados em relação à drenagem.
Entre 2000 e 2010 houve avanços importantes no acesso à água no Brasil. Como você avalia esse progresso?
A gente observa que muitas pessoas passaram a ter acesso à água por meio de programas sociais em regiões como o Nordeste. A única coisa que precisamos ter é um pouco de cuidado quando falamos dessa questão, para que esse acesso considere o aspecto ambiental. Sempre haverá impacto, mas é necessário que existam medidas de mitigação e compensação eficientes.
Aqui no Brasil, a gente pode falar de empreendimentos que foram construídos sem o devido licenciamento e sem estudos de impacto ambiental, como usinas hidrelétricas, especialmente as mais antigas. Temos, por exemplo, todo o contexto de Itaipu. Hoje, a gente observa que existem muitos programas ambientais que trazem essa preocupação com compensação dos impactos, mas nem sempre foi assim.
Podemos mencionar também a transposição do Rio São Francisco, que é um exemplo de empreendimento com um impacto grande. Ele trouxe benefícios sociais importantes, mas também gerou impactos negativos que poderiam ter sido mais bem conduzidos, com medidas ambientais mais adequadas para compensar e mitigar esses efeitos.
E podemos falar de uma série de outros empreendimentos, especialmente na área de mineração, que muitas vezes não cuidam devidamente da questão dos impactos gerados, nem da manutenção das estruturas de efluentes. Os casos de Brumadinho e Mariana são exemplos inevitáveis quando falamos desses impactos. A atuação das mineradoras não recebeu a atenção necessária na manutenção das represas, e isso levou, inclusive, a mudanças na legislação sobre a forma de disposição dos rejeitos, para que hoje possam ser melhor acondicionados. Então, a história nos traz muitos exemplos de ações que não podemos repetir.
Poderia contar um pouco da sua atuação no NAPI Águas e como ele contribui com toda essa problemática?
O NAPI Águas foi fundado em 2021, e eu estou ali como articuladora e coordenadora geral desde então. Estamos finalizando o primeiro projeto, que trouxe indicadores e índices de vulnerabilidade às mudanças climáticas para quatro setores estratégicos no estado do Paraná. A gente trabalha com ecossistemas e serviços ecossistêmicos, principalmente focados em bacias hidrográficas, com indicadores biológicos para esses serviços. Também desenvolvemos índices para a região litorânea, para a área da saúde e para o sistema de transporte.
Em cada um desses setores, identificamos áreas vulneráveis e em risco diante de eventos extremos no estado do Paraná. Estamos constituindo um banco de dados que já está quase finalizado, e ele ficará disponível em uma plataforma hospedada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), autarquia estadual que monitora e prevê fenômenos climáticos, ambientais e meteorológicos.
O Simepar vai hospedar esse banco de dados, e os pesquisadores poderão acessar as informações ali reunidas como dados relacionados às bacias hidrográficas, às cidades, à saúde e à região litorânea. Assim, será possível identificar quais cidades estão mais suscetíveis a eventos extremos e quais estratégias podem ser adotadas pelo governo do estado para reduzir a vulnerabilidade dessas áreas.
A partir dessas informações, espera-se a criação de políticas públicas que possam melhorar todo esse contexto que está sendo apontado pelo projeto. Nossa intenção é entregar o relatório final no início do próximo ano e, então, já iniciar um novo projeto.
Estamos em negociação com a Fundação Araucária e com a Sanepar, companhia de saneamento do Paraná, para começar essa nova fase, integrando várias universidades públicas, além de parcerias privadas e com institutos de pesquisa.Esse novo projeto será maior e focado não só na emergência e nas mudanças climáticas, mas também na segurança hídrica, na avaliação de serviços ecossistêmicos da água e em questões de qualidade da água.
Ao conversar com pesquisadores de diversos países, que desafios se mostraram particulares ao Paraná e quais se repetem em diferentes regiões do Brasil e do mundo?
O que a gente ouviu muito nas palestras e com os pesquisadores com quem conversei foi sobre a questão do desmatamento e dos combustíveis fósseis. A gente precisa mudar nossa matriz energética, porque os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pelas grandes emissões de CO₂ no mundo. Não tem como continuarmos com essa matriz do jeito que está.
O ponto principal, que é uma “dor” para todos, é que os países desenvolvidos muitas vezes não querem investir em países como o Brasil para que possamos ter uma transição mais fácil para fontes renováveis. O fato é que, se isso não acontecer, estamos caminhando para situações muito complexas em termos ambientais, com catástrofes cada vez mais recorrentes. Então, a pergunta que faço é: não seria melhor investir em prevenção, em vez de lidar depois com os danos causados por catástrofes? Certamente essa conta sairá mais cara.
Muitas vezes, o gasto necessário para prevenção, como mudança da matriz energética, reflorestamento e restauração de vegetação nativa, é muito menor do que o gasto com os impactos da emergência climática, como destruição de cidades e perda de vidas. Então, isso não está sendo colocado de forma direta e equilibrada na balança: se você não gasta agora, terá que gastar depois para reconstruir o que foi perdido.
Que contribuições sua fala levou para o evento e que aprendizados você trouxe?
Eu acho que as nossas falas, enquanto palavras de pesquisadores, contribuíram muito nesse contexto de apoio à manutenção das florestas, de combate ao desmatamento, e também em mostrar, de forma científica, para os tomadores de decisão, que isso precisa acontecer rapidamente.
Para mim, foi também muito importante observar a forma como os povos indígenas lidam com a natureza, respeitam todas as formas de vida e preservam sua cultura. E é isso que precisamos valorizar: garantir que eles continuem tendo o espaço necessário para desenvolver sua cultura. Esse respeito é o mínimo que eles merecem, assim como o direito às suas terras e à preservação de suas tradições. Essa experiência, para mim, ficou ainda mais forte por conta do contato direto com eles durante o evento.
Também é importante reforçar a necessidade de que, enquanto pesquisadores, continuemos tendo o apoio das fundações e das nossas instituições para desenvolver pesquisas que contribuam, inclusive, para a formação acadêmica. Esse é, eu acredito, nosso principal papel enquanto professores e pesquisadores.
Nosso trabalho envolve muitos alunos, acadêmicos em diferentes níveis, e a partir dessa participação conseguimos desenvolver pesquisas de forma colaborativa. A maior parte dos financiamentos é direcionada justamente para os acadêmicos, para que possam desenvolver suas atividades de pesquisa e sua formação. Isso é extremamente importante no papel das nossas universidades públicas.